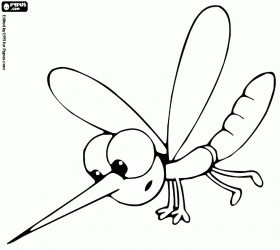Após ter sido convidado a escrever no Filosofia do Design, Felipe Kaizer propôs um diálogo a Marcos Beccari sobre o que seria, afinal, uma “filosofia do design”. A divergência de opinião entre ambos acentuou-se no decorrer de nove e-mails, abrindo inconciliavelmente um debate que nos convida a problematizar uma “filosofia do design” mediante as ideias de filosofia e de design. Dentre as questões suscitadas, destacam-se: a pertinência atual da tradição filosófica, as condições para um pensamento filosófico, as relações entre o design e o projetar, a busca por uma essência, ordem ou natureza do design e a possibilidade de um conhecimento que não se submeta de antemão à prática. A publicação integral desta discussão, sob o consentimento dos envolvidos, não visa outra coisa senão fomentar novos debates e reflexões, tornando assim visíveis as diferenças e os contrastes entre os pressupostos teóricos que muitas vezes são ocultados no fazer e no pensar design.
Após ter sido convidado a escrever no Filosofia do Design, Felipe Kaizer propôs um diálogo a Marcos Beccari sobre o que seria, afinal, uma “filosofia do design”. A divergência de opinião entre ambos acentuou-se no decorrer de nove e-mails, abrindo inconciliavelmente um debate que nos convida a problematizar uma “filosofia do design” mediante as ideias de filosofia e de design. Dentre as questões suscitadas, destacam-se: a pertinência atual da tradição filosófica, as condições para um pensamento filosófico, as relações entre o design e o projetar, a busca por uma essência, ordem ou natureza do design e a possibilidade de um conhecimento que não se submeta de antemão à prática. A publicação integral desta discussão, sob o consentimento dos envolvidos, não visa outra coisa senão fomentar novos debates e reflexões, tornando assim visíveis as diferenças e os contrastes entre os pressupostos teóricos que muitas vezes são ocultados no fazer e no pensar design.
——————–
FELIPE KAIZER: Marcos, você me convidou para escrever para o “Filosofia do Design”, mas não consegui. Comentei em outra conversa que não compreendo o nome. Para mim a ideia de uma filosofia do design é profundamente problemática, nos dois sentidos: nada encontro na filosofia (tradicional) que leve a essa nova subdivisão e tampouco vejo no design a necessidade de uma conceituação estritamente filosófica. Isso não significa que as narrativas sobre a atividade de projeto prescindam de conceitos. Existem outros modos de abordá-la que não visam, em última instância, a determinação da sua essência. Nesse sentido, por mais contraditório que possa parecer, penso que o pensamento especulativo sobre a atividade de projeto é mais produtivo que uma filosofia e portanto preferível. Mesmo o termo design precisa de início ser questionado, pois ele costuma estar associado diretamente a uma categoria profissional ou a uma disciplina acadêmica, o que, em todo caso, tem apenas um interesse secundário na investigação da prática de projeto.
—————————————————————————————————————————————————-
 MARCOS BECCARI: Conforme comentei contigo, meu site preza pela multiplicidade e não pela unanimidade de vozes. O convite foi feito, portanto, pela qualidade de seus textos, independentemente do posicionamento teórico-filosófico neles defendido. Compreendo que, se você considera problemática a própria ideia de uma filosofia do design, então de fato há um empecilho mais elementar à possibilidade de sua contribuição. Outras pessoas já recusaram meu convite pelo mesmo motivo, mas é a primeira vez que alguém se mostra aberto a dialogar a este respeito. De minha parte, todavia, asseguro que o diálogo foi sempre muito bem-vindo.
MARCOS BECCARI: Conforme comentei contigo, meu site preza pela multiplicidade e não pela unanimidade de vozes. O convite foi feito, portanto, pela qualidade de seus textos, independentemente do posicionamento teórico-filosófico neles defendido. Compreendo que, se você considera problemática a própria ideia de uma filosofia do design, então de fato há um empecilho mais elementar à possibilidade de sua contribuição. Outras pessoas já recusaram meu convite pelo mesmo motivo, mas é a primeira vez que alguém se mostra aberto a dialogar a este respeito. De minha parte, todavia, asseguro que o diálogo foi sempre muito bem-vindo.
Pois bem, em primeiro lugar quero destacar esta sua interpretação que, pautada no que você chama de filosofia “tradicional”, já relega de antemão a possibilidade de uma filosofia do design ao nível de uma “subdivisão” filosófica. Posso adiantar que, de meu ponto de vista, a filosofia do design nunca passou perto deste tipo de subdivisão. Mas é preciso, antes de tudo, questionar: que filosofia tradicional é esta? A partir do enunciado que você me deu, é possível deduzir que esta filosofia seria aquela que, por meio de conceitos, determina ou busca (pressupondo, pois) a essência das coisas. É como se houvesse uma ordem coerente e autossuficiente no universo que só poderia ser desvendada por filósofos. Se levássemos a sério tal empreitada, estaríamos anacronicamente rivalizando com Platão, Kant, Hegel etc.
Ao mesmo tempo, contudo, é verdade que há toda uma corrente filosófica (a dominante, diga-se de passagem) que se serve deste tipo de prerrogativa para, entre outras coisas, se erigir como arauto da grandeza humana – no caso do Brasil, vemos isso claramente na grandiloquência do discurso de Marilena Chauí. E nisso, a meu ver, reside toda a pretensão e ao mesmo tempo todo o engano de certas filosofias. Por exemplo, segundo Chauí (para não falar de Marx e outros mitos), uma das tarefas da filosofia seria a de abandonar o “senso comum”, isto é, a ingenuidade e a ideologia que aliena as pessoas. Não creio que o senso comum esteja alienado, desprovido de saber, seja incapaz de pensar ou ainda que lhe falte o saber necessário para agir e ser consciente de si. A única coisa que talvez “falte” ao senso comum é o léxico filosófico. Mas qual é a serventia de tal vocabulário para as pessoas? Claro que ele pode lhes ajudar a compreender o mundo em que vivem, mas outros léxicos também, muitas vezes de maneira mais eficaz. Enfim, não faltam filósofos que objetam contra essa concepção “tradicional” da filosofia – a exemplo de Michel Onfray em sua “Contra-história da filosofia” –, ainda que seus nomes não pertençam aos cânones geralmente ensinados.
Retomando aquela suposta função filosófica de responder qual é essência das coisas, eu poderia perguntar: mas o que a filosofia andou fazendo durante esses dois mil e tantos anos que não respondeu ainda? Ou então, uma vez respondido tantas vezes, por que continua nessa mesma busca? O fato é que todas as questões filosóficas (o que é a existência, o real, o homem, o mundo etc.) são, em última instância, variações de uma mesma questão: a de como podemos “traduzir” o mundo em conhecimento. Cada vez mais acredito que este conhecimento não diz respeito ao mundo (só tentamos “desvendar” um mundo que nós mesmos “encobrimos”) e sim ao conhecimento em si. Quer dizer, essa tradução não traduz o mundo, mas outras traduções (como a que traduz o mundo por “mundo”). Afinal, as respostas de todas as perguntas nós já sabemos: o mundo é o mundo, a vida é a vida, a morte é a morte. Se jamais nos contentamos com elas, é porque preferimos reiniciar este mesmo processo, fazendo tantas traduções quanto formos capazes de fazer. Uma vez constatada a existência, uma vez aprovada a realidade (mesmo a mais desagradável, como a morte), todo o resto não passa de expressões, representações, mediações, relações com essa realidade. Por isso que acredito, convictamente, que todas as construções, científicas, filosóficas ou mesmo religiosas, guardam uma aproximação maior do que imaginamos com o design.
 Em suma, penso que circunscrever a filosofia a uma essência ou busca por essências é subtrair sua razão de existir, que é existir sem razão, sem utilidade, com um fim em si mesmo. Fui claro até aqui? Se não, me pergunte, que eu tento explicar melhor. Não quero ser redundante, ainda mais contigo, que parece ser bem sucinto e contundente nas questões. Desta feita, podemos avançar no seguinte ponto: “penso que o pensamento especulativo sobre a atividade de projeto é mais produtivo que uma filosofia e portanto preferível”. Logo em seguida, você diz: “mesmo o termo design precisa de início ser questionado, pois ele costuma estar associado diretamente a uma categoria profissional ou a uma disciplina acadêmica, o que, em todo caso, tem apenas um interesse secundário na investigação da prática de projeto”. Concordo com isso, que devemos pensar o design para além de uma categoria profissional ou uma disciplina acadêmica, mas aparentemente você já determinou que design significa “atividade de projeto”, de modo que o pensamento especulativo sobre design tenha que partir necessariamente dessa concepção previamente dada.
Em suma, penso que circunscrever a filosofia a uma essência ou busca por essências é subtrair sua razão de existir, que é existir sem razão, sem utilidade, com um fim em si mesmo. Fui claro até aqui? Se não, me pergunte, que eu tento explicar melhor. Não quero ser redundante, ainda mais contigo, que parece ser bem sucinto e contundente nas questões. Desta feita, podemos avançar no seguinte ponto: “penso que o pensamento especulativo sobre a atividade de projeto é mais produtivo que uma filosofia e portanto preferível”. Logo em seguida, você diz: “mesmo o termo design precisa de início ser questionado, pois ele costuma estar associado diretamente a uma categoria profissional ou a uma disciplina acadêmica, o que, em todo caso, tem apenas um interesse secundário na investigação da prática de projeto”. Concordo com isso, que devemos pensar o design para além de uma categoria profissional ou uma disciplina acadêmica, mas aparentemente você já determinou que design significa “atividade de projeto”, de modo que o pensamento especulativo sobre design tenha que partir necessariamente dessa concepção previamente dada.
Poderíamos aqui iniciar toda uma discussão sobre tal concepção – que desde a década de 1970 tem sido fortemente questionada – e, caso você considere relevante, me diga (adoro essas discussões). Mas, a princípio, contento-me em lembrar que a filosofia do design, proposta inicialmente como subdisciplina do design (enquadramento este com o qual não concordo), já problematizava a noção de “projeto” em relação à ideia de design. Em minha pesquisa de mestrado, procurei demonstrar filosoficamente, tanto para os designers quanto para os que usam seus produtos, que o valor, a qualidade, a importância das peças de design não está simplesmente em seu uso funcional ou sua apreciação estética, mas na mediação simbólica que portam e realizam. A construção dessa mediação não se dá por meio de um raciocínio projetual e sim analógico, por meio de uma relação não causal de elementos, como conectar sentidos e significados arbitrariamente. Assim a relação do design com a filosofia se torna mais clara: a criatividade do filósofo e do designer (assim como a do cineasta, do artista, do cientista etc.) repagina, remoldura, reveste, dá novas formas às coisas e eventos que a todo instante traduzimos em conceitos.
Portanto, se encararmos o design como um modo de pensamento, de conhecimento e de ação análogo ao modo filosófico, aí sim podemos falar de uma filosofia do design conforme eu a concebo, a defendo e a tenho desenvolvido. Podemos definir a natureza, a verdade, a essência, a materialidade etc. do mundo, mas jamais escaparemos da tarefa de, antes, conhecê-lo e traduzi-lo de algum modo. Mesmo o projeto não deixa de ser uma espécie de tradução – uma tradução não analógica, mas ordenada e direcionada a algum propósito preestabelecido. Só que, do mesmo modo, não há propósito que não seja imaginado pelo homem, isto é, que não passe pelas imagens, expressões, mediações que estabelecemos com o mundo ao nosso redor e conosco mesmos. Nesta perspectiva, a filosofia do design se encarregaria de tornar visível este constante processo de mediação e (re)criação de significados, interpretações e “modos de ser” que se abrem por meio do design.
Não que este processo esteja restrito ao design (passa também pela filosofia, pela literatura, pela religião, pela ciência e, enfim, por nossas diversas expressões culturais), mas a questão é que as narrativas mediadas pelo design podem ser compreendidas como enunciados filosóficos que, ao serem interpretados, refletem e proporcionam “modos de ser” diversos. Logo, também concerne aos designers qualquer tipo de conjugação narrativa ou filosófica para além do próprio design. Uma vez que objetos e imagens nos sugerem condutas, “estilos de vida”, valores e significados, é pertinente a uma filosofia do design investigar e dimensionar o imaginário contemporâneo, sempre se valendo de múltiplas interpretações. É com o intuito de fomentar este tipo de reflexão, e não balizá-la de maneira sistemática ou normativa, que o site Filosofia do Design se propõe a apresentar diversas visadas filosóficas que poderiam, cada qual, oferecer uma tradução diferente ao design, a nós mesmos e ao mundo em que vivemos.
—————————————————————————————————————————————————-
 FELIPE KAIZER: Quanto à questão da filosofia: sim, você foi claro. Mas preciso discordar. A meu ver, mesmo que as “todas as questões filosóficas [sejam], em última instância, variações [da] questão […] de como podemos ‘traduzir’ o mundo em conhecimento” em prol do próprio conhecimento, a tarefa milenar da filosofia permanece: como tratar daquilo que ainda é desconhecido, isto é, do restante que chamamos “mundo”? Essa foi e ainda é a tarefa dos pensadores, intitulados filósofos ou não. Mesmo contra a nossa vontade, quando falamos em filosofia do design, “rivalizamos” sim com “Platão, Kant, Hegel etc.”. A mera citação feita por você dessa sequência de nomes comprova meu ponto: é impossível não ter essa tradição em mente. Além disso, é preciso considerar que até a suposta “existência sem razão” ou “a finalidade em si” da filosofia é uma determinação claramente conceitual. Em suma, o problema do ser, da essência e do conceito é incontornável em qualquer campo propriamente filosófico.
FELIPE KAIZER: Quanto à questão da filosofia: sim, você foi claro. Mas preciso discordar. A meu ver, mesmo que as “todas as questões filosóficas [sejam], em última instância, variações [da] questão […] de como podemos ‘traduzir’ o mundo em conhecimento” em prol do próprio conhecimento, a tarefa milenar da filosofia permanece: como tratar daquilo que ainda é desconhecido, isto é, do restante que chamamos “mundo”? Essa foi e ainda é a tarefa dos pensadores, intitulados filósofos ou não. Mesmo contra a nossa vontade, quando falamos em filosofia do design, “rivalizamos” sim com “Platão, Kant, Hegel etc.”. A mera citação feita por você dessa sequência de nomes comprova meu ponto: é impossível não ter essa tradição em mente. Além disso, é preciso considerar que até a suposta “existência sem razão” ou “a finalidade em si” da filosofia é uma determinação claramente conceitual. Em suma, o problema do ser, da essência e do conceito é incontornável em qualquer campo propriamente filosófico.
Por isso acredito que o que você me descreveu é diferente de uma filosofia. Corrija-me se estiver enganado, mas, segundo você, a “mediação simbólica” promovida pelo design (assim como por outras práticas) se dá por “uma relação não causal de elementos”. Se admitirmos essa premissa, então você tem razão em descartar a discussão sobre a essência do design. A seguir, ao afirmar que essa mediação está em mudança, você propõe que se conceba a relação não causal como uma (re)tradução constante do mundo em conceitos. Posso concordar com isso, mas com uma ressalva: não acredito que a tradução feita por um filósofo e por um designer sejam a mesma coisa. Podemos usar a metáfora da tradução para as atividades de ambos, desde que se admita que há uma distinção essencial. Para mim a possível analogia entre os modos “de pensamento, de conhecimento e de ação” entre filosofia e design é insuficiente para conceber uma filosofia do design.
E é aí que eu sustento minha determinação do design como atividade projetual (ou designing em inglês), como você bem notou. O filósofo que “traduz” o mundo em conceitos não está fazendo projeto; e o projetista que traduz o mundo em formas não está fazendo filosofia. Quando essa diferença se torna turva, nossa capacidade de discutir fica comprometida. Logo, com todo o respeito, acho errônea a afirmação de que “as narrativas mediadas pelo design podem ser compreendidas como enunciados filosóficos”. Na verdade, nem vejo muito sentido nessa comparação: em defesa do design, da arte e de toda práxis, é preciso reconhecer que a teoria sempre chega tarde ao nascimento de um fenômeno. A coruja de Minerva levanta voo apenas ao entardecer.
O design não. Como atividade prática, ela opera pelo princípio da finalidade. Isso não quer dizer, porém, que o sentido do projetar dependa inteiramente do alcance de uma condição previamente imaginada. O projeto está às voltas com a teleologia mesmo quando a nega. Minha pesquisa de graduação se debruçou justamente sobre esse problema: o conceito de projeto deve incluir o erro, a imprevisibilidade e a pluralidade. Compartilho da sua crítica ao “uso funcional”, à “apreciação estética” e à “racionalidade projetual”, mas ela diz respeito a uma interpretação historicamente limitada da atividade de projeto: o design industrial moderno. Não devemos estender o controle pregado pela modernidade e os preceitos estéticos regulados pela indústria a toda manifestação do design; isso não quer dizer, no entanto, que podemos isentar com facilidade a atividade de projeto de toda intencionalidade. O projeto não é menos livre porque se impõe um critério de sucesso. Aliás, ele só pode ser surpreendentemente bem sucedido em trazer algo de inesperado ao mundo em função de expectativas que mantém. Nos erros há frutos, mas sem planos não há erros.
—————————————————————————————————————————————————-
 MARCOS BECCARI: Em primeiro lugar, acho que definir o que é e o que deixa de ser filosofia será sempre uma determinação conceitual (inclusive a “tarefa milenar” que você atribui a ela) e que, por conseguinte, o problema do ser, da essência e do conceito é incontornável no campo filosófico (nem que seja para denunciar tais problemas como ilusórios). Mas ao final de sua exposição você defende que o design não se restringe a uma interpretação historicamente limitada de “projeto”, ou seja, não se restringe a uma determinação conceitual. Ora, qualquer coisa sobre a qual podemos falar não escapa de conceitos, signos e artifícios do conhecimento, o que também implica uma interpretação histórica. Não há nenhuma parte “restante” do que chamamos de mundo que fuja disso: tudo que nos é desconhecido somente o é porque pode ser conhecido. Tanto que qualquer teoria filosófica, a meu ver, mesmo a mais exaustivamente sistematizada (acessível apenas a alguns “iniciados”), remonta ideias simples, que boa parte de nós já teve ou poderia ter. Por isso que, insisto, não é tarefa da filosofia tratar daquilo que ainda é desconhecido – desde a chamada “virada linguística”, pelo menos, a própria noção de “desconhecido” caiu por terra mediante os artifícios do conhecimento.
MARCOS BECCARI: Em primeiro lugar, acho que definir o que é e o que deixa de ser filosofia será sempre uma determinação conceitual (inclusive a “tarefa milenar” que você atribui a ela) e que, por conseguinte, o problema do ser, da essência e do conceito é incontornável no campo filosófico (nem que seja para denunciar tais problemas como ilusórios). Mas ao final de sua exposição você defende que o design não se restringe a uma interpretação historicamente limitada de “projeto”, ou seja, não se restringe a uma determinação conceitual. Ora, qualquer coisa sobre a qual podemos falar não escapa de conceitos, signos e artifícios do conhecimento, o que também implica uma interpretação histórica. Não há nenhuma parte “restante” do que chamamos de mundo que fuja disso: tudo que nos é desconhecido somente o é porque pode ser conhecido. Tanto que qualquer teoria filosófica, a meu ver, mesmo a mais exaustivamente sistematizada (acessível apenas a alguns “iniciados”), remonta ideias simples, que boa parte de nós já teve ou poderia ter. Por isso que, insisto, não é tarefa da filosofia tratar daquilo que ainda é desconhecido – desde a chamada “virada linguística”, pelo menos, a própria noção de “desconhecido” caiu por terra mediante os artifícios do conhecimento.
Logo, se eu mencionei Platão, Kant e Hegel, foi para assinalar a pretensão totalmente absurda de, em tempos de filosofia sistêmica pós-nietzschiana, tentar rivalizar com eles. Desconheço qualquer filósofo que se intitula como tal investindo em tal empreitada. A questão é que, para quebrar qualquer regra, é preciso haver antes alguma regra. Quando se fala em filosofia hoje, não apenas é possível desmerecer essa tradição canônica, como também muitos filósofos já o fazem (não escapando, portanto, de mencioná-la), desde Montaigne, Nietsche, Latour etc. Não que a tradição filosófica “oficial” não tenha a menor importância, pelo contrário, é preciso conhecê-la tanto quanto é preciso conhecer as regras oficiais da língua portuguesa (das quais eu, pelo menos, não tenho pleno conhecimento). Quer dizer, a importância do conhecimento é que ele sirva para minha vida, e não o contrário. É neste sentido que “é impossível não ter essa tradição em mente”, ainda que seja para criticá-la. Agora, acreditar que há uma “tarefa milenar” sendo operada pela filosofia não é nem algo que eu possa concordar, nem discordar – do mesmo modo em relação à crença hegeliana de uma tarefa histórica, ou à do êxodo milenar do povo judeu, ou à da vida após a morte. Eu apenas não acredito.
Em segundo lugar, avançando em sua arguição, você tem razão, embora eu nem tenha entrado neste mérito, em dizer que há uma distinção entre a tradução operada pelo filósofo e a operada pelo designer. No entanto, dizer que tal analogia nada tem a ver com uma filosofia, desqualificando portanto uma filosofia do design, me parece novamente pretensioso, pois implica cercear a filosofia e o design com algum tipo de privilégio essencial. A este respeito, acho suficiente mencionar Deleuze, em seu “O que é filosofia?”, que coloca a filosofia, a arte e a ciência num mesmo nível de “baixeza”, isto é, como sendo apenas modos distintos de um mesmo processo de criação e expressão humanas. Mas se você considera que “quando essa diferença se torna turva, nossa capacidade de discutir fica comprometida”, então sua preocupação parece ser outra – a de delimitar limites e fronteiras, ao invés de abrir cortes transversais – e de fato não seria uma discussão que me parece relevante.
Em todo caso, você pontua que “o filósofo que traduz o mundo em conceitos não está fazendo projeto” – concordo, o que eu disse foi que o projeto é também um modo de tradução. Todavia, para dizer que “o projetista que traduz o mundo em formas não está fazendo filosofia”, seria preciso retirar da filosofia todos os projetos que perfizeram sua tradição canônica – mesmo que “projetista” seja, no enunciado, mera designação profissional, uma vez que a filosofia também implica uma atividade prática e profissional. Mas antes de entrar na questão da concepção do projeto (a qual retomarei logo mais), tomo a liberdade de inferir que sua concepção filosófica apresenta uma clara influência hegeliana. Posso estar enganado, espero que não: quando você menciona a famosa frase de Hegel acerca da coruja de Minerva que levanta voo apenas ao entardecer, você deve saber que o “fenômeno” em relação ao qual a teoria sempre chega tarde diz respeito à noção de evento histórico. Afinal, que o pensamento se ponha como pressuposto, Kant já o demonstrou longamente. Para Hegel, trata-se de alcançar uma identidade entre a coisa e seu pressuposto (o pensamento acerca dela), portanto o “Absoluto” que suprimiria tal diferença ao conservá-la dialeticamente como “aparência necessária”. A pretensão hegeliana, pois, é a de esperar que nosso pensamento e suas limitações nos conduzam a um saber absoluto (histórico) que dialeticamente os pressuponha – por isso a teoria sempre chegaria tarde ao “acesso” para os fenômenos. Estou convencido, entretanto, de que nem Hegel nem Kant conseguiram acessar o que quer que seja sem a mediação do pensamento, sem as traduções do mundo sobre o mundo.
 Pois bem, se eu estiver certo em relação à sua influência hegeliana, então faz todo sentido sua afirmação de que, “como atividade prática, [o design] opera pelo princípio da finalidade”. Ao menos esta é a tradução que me parece mais adequada ao aspecto teleológico que você imputa à atividade projetual. Analogamente ao que eu penso sobre o hegelianismo, creio que a hipótese de uma autonomia projetual é tudo menos uma atividade prática: tanto faz se atribuo ao ato de projetar alguma causa ou finalidade, na prática isso só serve para justificar nossos erros e acertos. Claro que a noção de “erro” ou “acerto” só adquire sentido mediante algum plano, alguma intenção esquematizada de algum modo. Só que dizer que o projeto somente pode ser “supreendentemente” bem-sucedido ao trazer algo de inesperado (em relação às expectativas que ele mantém, como você disse) não apenas já implica um critério arbitrário de sucesso, como também acaba qualificando tudo aquilo que não foi previsto como algo “bom” – o que até poderia servir a uma visão estética romântica, como a de Baudelaire, mas que arrancaria um riso de escárnio de outro romântico como Flaubert. Enfim, acho curioso como você me sugere não estender os preceitos históricos a toda manifestação do design para, logo em seguida, afirmar que não podemos isentar a atividade de projeto (que para você, é sinônimo de design) de toda intencionalidade.
Pois bem, se eu estiver certo em relação à sua influência hegeliana, então faz todo sentido sua afirmação de que, “como atividade prática, [o design] opera pelo princípio da finalidade”. Ao menos esta é a tradução que me parece mais adequada ao aspecto teleológico que você imputa à atividade projetual. Analogamente ao que eu penso sobre o hegelianismo, creio que a hipótese de uma autonomia projetual é tudo menos uma atividade prática: tanto faz se atribuo ao ato de projetar alguma causa ou finalidade, na prática isso só serve para justificar nossos erros e acertos. Claro que a noção de “erro” ou “acerto” só adquire sentido mediante algum plano, alguma intenção esquematizada de algum modo. Só que dizer que o projeto somente pode ser “supreendentemente” bem-sucedido ao trazer algo de inesperado (em relação às expectativas que ele mantém, como você disse) não apenas já implica um critério arbitrário de sucesso, como também acaba qualificando tudo aquilo que não foi previsto como algo “bom” – o que até poderia servir a uma visão estética romântica, como a de Baudelaire, mas que arrancaria um riso de escárnio de outro romântico como Flaubert. Enfim, acho curioso como você me sugere não estender os preceitos históricos a toda manifestação do design para, logo em seguida, afirmar que não podemos isentar a atividade de projeto (que para você, é sinônimo de design) de toda intencionalidade.
Veja, podemos considerar o planejamento de um casamento como um tipo de projeto, certo? Mas quando um casal vestido com roupas específicas, em uma igreja, pronuncia “sim” em frente a um padre, por exemplo, não é somente uma intenção (ou sua expressão verbal) que transforma um simples homem em “marido” e uma simples mulher em “esposa”. É preciso haver mediação com determinadas convenções para que nossas intenções e propósitos sejam antecipados e afirmados como partes de uma narrativa pessoal e coletiva. Neste caso, o vestido da noiva, as alianças de ouro e o buquê de flores compõem uma mediação, dentre outras possíveis, a que o noivo e a noiva recorrem para expressar a importância que dão a determinadas intenções. As superstições e os rituais dos povos ancestrais, assim como nossos projetos contemporâneos (pautados em narrativas sobre a vida, o amor, o trabalho etc.), são traduções designadas a certos acontecimentos que possuem, a nós, alguma importância. A questão é que essa importância não depende exclusivamente de nossas intenções, mas antes de tudo das narrativas que, volto a dizer, podem ser tanto mediadas pelo design quanto interpretadas como enunciados filosóficos (ou científicos, religiosos, literários etc.).
Acho muito fácil, portanto, criticar a racionalidade projetual moderna e continuar reproduzindo sua mesma premissa romântica acerca da intencionalidade. É por isso que eu sempre digo que, na prática, romantismo dá no mesmo que modernismo, assim como anti-funcionalismo dá no mesmo que funcionalismo (essa própria dicotomia é inerente a tais doutrinas). Ocorre que hoje e sempre grande parte das pessoas mantém, por exemplo, uma visão supersticiosa de mundo (não passam embaixo da escada, acreditam no horóscopo), e isso nunca as impediu de traçar “ceticamente” seus projetos de vida. A questão é que não são coisas separadas. Dizer que o design opera por um princípio de finalidade significa, pois, reduzir toda sua potência simbólica a um constructo de antecipação previdente e provedora de ações a partir de uma intenção preestabelecida – basicamente a definição moderna de projeto. Queira ou não, esta é apenas uma forma de se entender o design, forma esta com a qual boa parte dos designers não me parece muito complacente. Não sou contra sua definição do design como atividade projetual, ela só me parece demasiado insuficiente. Assim como, veja bem, não te parece suficiente o que eu chamo de filosofia do design: porque a filosofia de que falo é um fim em si mesmo (tradução de traduções) e, por outro lado, porque o que você chama de design está circunscrito em um fim (a atividade do projeto).
O que quero dizer? No fim das contas, que seu esforço em determinar pela atividade do projeto o que é design me parece uma tentativa de capturar uma “essência” do design, o que a meu ver não passa de uma tradução dentre outras possíveis. Lá onde você procura criar uma ruptura com as demais traduções possíveis, eu apenas me sirvo de alguma definição provisória (articulação simbólica) como atalho a este processo sempre em aberto da tradução filosófica. É quase como se você quisesse demarcar uma oposição fundamental entre o real e o imaginário, ao passo que eu tento te provar que real e imaginário estão juntos, são o mesmo, uma vez que ambos expressam uma realidade que já está aí. Ou seja, eu não apenas adoto a analogia da “tradução” em objeção às definições essenciais, como também tomo cuidado para não transformá-la em outra definição essencial. Quando Nietzsche diz que para viver a vida é preciso não acreditar demasiado nela, ele quer dizer que a vida deve ser mais importante que nossas definições acerca dela. Do mesmo modo, creio que o design e a filosofia, sobretudo a interação entre ambos, são mais importantes que toda tradução que lhes possamos atribuir.
—————————————————————————————————————————————————-
 FELIPE KAIZER: Fico feliz que você tenha concordado comigo a respeito da centralidade do problema do ser, da essência e do conceito em toda discussão filosófica. Pena que na dita filosofia do design até agora esse problema não tenha sido apresentado com a devida importância. Por esse mesmo motivo é ainda um incômodo a toda teoria meramente epistemológica aquilo que chamamos de “restante”. Incômodo esse que não se resolve com “ideias simples”.
FELIPE KAIZER: Fico feliz que você tenha concordado comigo a respeito da centralidade do problema do ser, da essência e do conceito em toda discussão filosófica. Pena que na dita filosofia do design até agora esse problema não tenha sido apresentado com a devida importância. Por esse mesmo motivo é ainda um incômodo a toda teoria meramente epistemológica aquilo que chamamos de “restante”. Incômodo esse que não se resolve com “ideias simples”.
Mas você está certo quanto a minha “influência hegeliana”. E concordo em parte sobre a mediação do pensamento em Kant e Hegel como modo de acesso ao mundo. Repito, porém, minha ressalva: design não é uma “tradução” do mesmo tipo que a filosofia. E para perceber isso não é preciso “retirar da filosofia todos os projetos”. Eu não disse que um filósofo não pode projetar; disse apenas que o pensamento filosófico não é idêntico à prática projetiva. Logo, a comparação entre “traduções” de naturezas diferentes é improdutiva na nossa investigação. “Pretencioso” para mim é acreditar que uma mera analogia pode servir de base para uma filosofia.
No entanto, posso fazer um exercício aqui e tentar conceber uma outra base para uma “filosofia do design”. A meu ver tudo começa com alguma teoria da ação. Isso me parece inalienável. As narrativas, que você aponta, também tem espaço nessa “filosofia”, mas esse é secundário. As narrativas que nos contamos depois dos feitos (depois do casamento, para continuar seu exemplo) alteram sim o significado dos acontecimentos. Mas para mim o design, assim como toda atividade prática, está envolvido diretamente na produção (ex nihilo, por assim dizer) dos eventos. Essas atividades se dão numa esfera onde muitas vezes o sentido do que se está fazendo é ainda impossível de conhecer. Por isso me parece extremamente útil o estudo das teorias políticas, como a de Hannah Arendt. O desafio é como entender algo que é levado a cabo em função de uma finalidade previamente determinada, mas que, por sua própria execução, é capaz de chacoalhar a própria lógica teleológica. O desafio é, em outras palavras, pensar o abismo que existe entre intenção e ato. Uma especulação que versa sobre esse tipo de imprevisibilidade – isto é sobre o surgimento do Novo – nada tem de romântico, a não ser que se tente, de novo, localizá-la como um projeto tão-somente moderno. O que estou tentando traçar (rapidamente aqui) é a possibilidade de um pensamento sobre projeto para além “de uma intenção preestabelecida”. E mesmo que essa seja apenas “uma forma de se entender o design”, não conheço outra melhor.
Por isso não tenha receio algum de “batalhar” por uma ideia específica de design em detrimento das demais. No final das contas, o cuidado para não transformar uma “definição provisória” em “outra definição essencial” é uma espécie de falsa precaução. Repetindo a crítica de Hegel à crítica de Kant, é preciso “introduzir uma desconfiança nessa mesma desconfiança [em relação a toda determinação essencial do projeto] e recear que esse temor de errar já não seja o próprio erro.” Ou, como supostamente respondeu Descartes a Pascal diante da condenação deste da arrogância da razão frente à infinitude do universo, “…pode ser que a verdadeira fineza esteja justamente em não querer se utilizar de finezas” (https://www.youtube.com/watch?v=93YbT4pHrJA). Sem alguém para “delimitar limites e fronteiras” você não pode “abrir [seus] cortes transversais”.
Em suma, vejo que, além da analogia fundamental sobre a qual você sustenta essa “filosofia”, é patente a ênfase dada às ressimbolizações sobre as formas e os atos propriamente ditos. Assim, também tomo a liberdade de inferir: seus estudos não são mais semióticos do que filosóficos?
—————————————————————————————————————————————————-
MARCOS BECCARI: Começando pelo fim: minha ênfase nas ressimbolizações sobre as formas e atos passa bem longe da semiótica, tanto da americana quanto da francesa/russa. Considero sim, ao contrário da maneira como você colocou, que a semiótica seja uma disciplina filosófica. Mas não me parece plausível separar semioticamente o que eu digo de um lado e, de outro, o sentido daquilo que digo. Pois a linguagem não serve tanto para compreendermos o que é dito, o mundo ou a própria linguagem, mas antes a nós mesmos em relação a um mundo que se introduz nas variações de sentido que os signos fracassam em estabilizar. Ademais, o que ampara minha concepção filosófica não é somente a expressão criativa que Deleuze atribui à filosofia – abordagem que, reitero, já me parece demasiado suficiente, mas cujas analogias lhe soam “pretensiosas”; quem me dera um dia também poder chamar Deleuze de petulante…
 Fundamento-me especialmente na hermenêutica simbólico-filosófica de Paul Ricoeur, implicando necessariamente uma antropologia e uma ontologia, mas sem esgotar-se nelas. Por um lado, antropologia se define como um discurso sobre o homem, mas de tal modo que não estão separados aquele que fala e aquilo sobre o que se fala. Logo, qualquer pergunta sobre o “ser” não se descola da condição de ser, o que equivale dizer que toda ontologia é antes uma antropologia. Por outro lado, contudo, tanto a antropologia quanto a ontologia são antes uma hermenêutica: não há a questão do “ser”, só há a questão do “sentido de ser”. Nada além do sentido há para ser compreendido, ainda que, ao mesmo tempo (sob um viés nietzschiano no qual também me amparo), qualquer sentido tende a substituir o que é.
Fundamento-me especialmente na hermenêutica simbólico-filosófica de Paul Ricoeur, implicando necessariamente uma antropologia e uma ontologia, mas sem esgotar-se nelas. Por um lado, antropologia se define como um discurso sobre o homem, mas de tal modo que não estão separados aquele que fala e aquilo sobre o que se fala. Logo, qualquer pergunta sobre o “ser” não se descola da condição de ser, o que equivale dizer que toda ontologia é antes uma antropologia. Por outro lado, contudo, tanto a antropologia quanto a ontologia são antes uma hermenêutica: não há a questão do “ser”, só há a questão do “sentido de ser”. Nada além do sentido há para ser compreendido, ainda que, ao mesmo tempo (sob um viés nietzschiano no qual também me amparo), qualquer sentido tende a substituir o que é.
Tentarei explicar, ainda, partindo de uma crítica hegeliana. Embora minha leitura sobre Hegel se detenha na interpretação francesa kojèviana, lembro que Jean Hyppolite fez um apontamento, em seu famoso “Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito”, análogo ao que eu argumentei acima. Concordando com o idealista alemão, Hyppolite afirma que a filosofia deve ser ontologia, mas com o adendo de que não há ontologia da essência, só há ontologia do sentido. Em outras palavras: não é possível estabelecer qualquer ontologia, nem mesmo enunciar a proposição que se queira, sem antes, numa anterioridade condicionante, subjacente ao que se diz, lançar mão de uma imagem ou ideia de ser, essência ou conceito. Em suma, sem a articulação dessas imagens e ideias qualquer discurso filosófico é mudo.
Insisto nisso porque quando você fala que tais problemas (ser, essência e conceito) até agora não foram apresentados com a “devida importância” na filosofia do design, eu lhe questiono que “importância” é esta que não se refira a uma imagem – no seu caso, uma imagem claramente metafísica ou fundacionista, ou, ainda, conforme você prossegue, a de um “incômodo restante” que ultrapassa toda epistemologia e não se resolve com ideias simples. De modo geral, a impressão que eu tenho é que, assim como Hegel, você reivindica por algum “princípio autossuficiente” que possa legitimar as traduções de mundo a partir do pressuposto de que eles, as traduções ou o mundo mesmo, não são suficientes – algo análogo àquilo que Jean-Pierre Boutinet descreve, em sua Antropologia do Projeto (livro este, aliás, que já compõe uma crítica contumaz a qualquer filosofia do projeto), como ilusão constitutiva que se dá em função de uma capciosa “ausência fundadora”. Isso fica claro tanto em sua proposta de uma “filosofia da ação” quanto em sua defesa de um entendimento “melhor” de design.
Para início de conversa, quando você reitera que “não disse que um filósofo não pode projetar; disse apenas que o pensamento filosófico não é idêntico à prática projetiva”, eu fiquei me perguntando: que diferença há entre projetar e “prática projetiva”? Como eu disse, concordo que, entre um engenheiro e um filósofo, há duas formas diferentes de tradução, mas dizer logo em seguida que uma delas, “assim como toda atividade prática, está envolvida diretamente na produção dos eventos” implica não apenas relegar a outra forma a um registro não-prático, que não produz eventos, como também acreditar que a própria produção de eventos depende de uma suposta dimensão projetual “ex nihilo”, como você a descreve.
Que dimensão é esta? Você responde: “esfera onde muitas vezes o sentido do que se está fazendo é ainda impossível de conhecer”. Pois bem, é exatamente este enunciado que justifica, para Hannah Arendt (de quem eu discordo totalmente), a truculência do holocausto nazista. Mas que sentido é este, impossível de conhecer, que não seja o de uma mera arbitrariedade? Mesmo podendo “chacoalhar” a lógica teleológica (de determinado sentido que estaria por vir), a própria promessa de um sentido ainda impossível de se conhecer, de um “surgimento do Novo”, me soa inteiramente teleológica: o que seria afinal este Novo senão uma função hegeliana que justifique, à posteriori, a aparência dos eventos? Adiante, quando você propõe “pensar o abismo que existe entre intenção e ato”, fica nítida esta diferença pressuposta dialeticamente entre a passagem ao ato e o ato percebido como tal. Ou seja, é evidente a tua necessidade de um “abismo”, uma ausência fundadora (o que você enaltece como imprevisibilidade) que explique um ato ou evento que, por si mesmo, é insuficiente de sentido – daí a sua recusa a “ideias simples” para dar conta de um “incômodo restante”.
 Em parte, posso até concordar que, caso tal insuficiência não resida no sentido do ato, mas na interpretação que fazemos dele, o segredo é que não há segredos, conforme o célebre lema de Wilde. Agora, qualificar este aspecto trágico dos eventos (que não possuem sentido por si mesmos) como abismo, incômodo ou sentido impossível parece-me sinalizar certa queixa kafkiana em relação a um “sentido perdido” que explicaria os atos/eventos e que, porém, nunca se revela nos mesmos. Veja como, em primeiro lugar, o enunciado de um sentido impossível de se conhecer tende a referir-se a um “sentido pleno”. Em relação a este, seu discurso sobre a insuficiência narrativa (no exemplo dos casamentos) parece, no fundo, querer apontar de maneira por assim dizer reprovadora a uma “falta primordial”: as coisas <deveriam> ter um sentido pleno, mas não têm (ou: não é possível de conhecê-lo em ato). Como eu disse, concordo que não têm, mas o que diabos teria um sentido pleno?
Em parte, posso até concordar que, caso tal insuficiência não resida no sentido do ato, mas na interpretação que fazemos dele, o segredo é que não há segredos, conforme o célebre lema de Wilde. Agora, qualificar este aspecto trágico dos eventos (que não possuem sentido por si mesmos) como abismo, incômodo ou sentido impossível parece-me sinalizar certa queixa kafkiana em relação a um “sentido perdido” que explicaria os atos/eventos e que, porém, nunca se revela nos mesmos. Veja como, em primeiro lugar, o enunciado de um sentido impossível de se conhecer tende a referir-se a um “sentido pleno”. Em relação a este, seu discurso sobre a insuficiência narrativa (no exemplo dos casamentos) parece, no fundo, querer apontar de maneira por assim dizer reprovadora a uma “falta primordial”: as coisas <deveriam> ter um sentido pleno, mas não têm (ou: não é possível de conhecê-lo em ato). Como eu disse, concordo que não têm, mas o que diabos teria um sentido pleno?
Qual o sentido, por exemplo, que estaria faltando no ato sexual? Claro que as narrativas que contamos depois de fazê-lo alteram seu significado, bem como as que perfazem nossas expectativas acerca dele – é neste sentido, não obstante, que Lacan diz que não existe ato sexual. A questão é que, faltando ou não faltando sentido, o fazemos mesmo assim. É óbvio que o desejo de transar não justifica, por exemplo, a prostituição, pois há mil outras maneiras de satisfazê-lo. A brutalidade (ou banalidade, segundo Arendt) não explica o totalitarismo, mesmo que ela possa encontrar nele seu melhor meio. Estas séries de associações podem ser úteis para prever e projetar (dormimos porque é noite, almoçamos porque é meio-dia), mas não passam de coordenadas de sentido arbitrárias pautadas em alguma narrativa – e é evidente que tais coordenadas ora balizadas por uma narrativa se reconfiguram mediante outra. Só que, novamente, dizer que “o sentido do que se está fazendo é ainda impossível de conhecer” implica pressupor um sentido pleno que, romanticamente, cedo ou tarde se revelaria.
Esta é a imagem “incômoda” e fundacionista (ausência fundadora) que você gostaria de ver “devidamente” inscrita numa filosofia do design. Em certo sentido, assemelha-se à promessa existencialista ou kantiana de que, se o homem e a própria vida são incompletos, insuficientes de sentido, então é a partir desta falta primordial que se funda o Ser e sobre a qual podemos erigir nossa autonomia e liberdade. Pode ser uma bonita lição de moral, mas acho difícil de engolir. Porque nela reside um recurso forçado de cisão cartesiana: se entre o ato em si e o ato percebido enquanto tal há um abismo, falta de sentido ou algum sentido “ainda impossível de conhecer”, então é preciso haver uma separação anterior em que a percepção que se tem do ato não faça parte do ato. Ora, mesmo empreitadas ditas “selvagens” como a guerra, ou as de caráter eminentemente fisiológico, como o ato de comer, são praticadas por nós de modo inseparável da imagem ou ideia que temos delas. Agora, deduzir algum tipo de lacuna ontológica por ocasião da provável não coincidência entre os atos e as imagens/ideias só serve, a meu ver, para denunciar uma ordem que se gostaria de ver ali, mas não se vê.
Vejamos mais atentamente sua tentativa de traçar um pensamento sobre projeto para além de uma intenção prévia. Parece-me que sua preocupação principal reside na indeterminação da ação que o projeto antecipa: por envolver uma antecipação do ato, uma condição de ainda-não-ser uma ação, o projeto estaria destinado a permanecer ontologicamente incompleto, reconfigurando a si mesmo no momento em que se realiza. Até aqui eu concordaria, com a ressalva de que não se trata de um privilégio do projetar, uma vez que quaisquer configurações simbólicas podem reordenar nossas ações de maneira retroativa – aquilo que na cópia há de mais original que seu modelo, como diz Deleuze. Mas o problema de caracterizar a atividade projetiva (ou o design) por este caminho reside na armadilha de inferir uma dimensão em que a realidade possa preexistir a si mesma – como aquela de uma escolha que poderia operar uma ruptura no universo de sentido (messianismo dos irmãos Wachowski) – e, por conseguinte, no engodo de presumir que uma ausência, falta ou vazio constitutivo possa paradoxalmente instaurar o surgimento do Novo, de modo imprevisível e extraordinário.
Perdoe-me se eu estiver indo longe demais com o que você apenas traçou rapidamente, mas meu ponto é que, novamente, haveria uma divisão forçada aqui: de um lado, uma ordem (intenção ou finalidade) inerente às ações e, de outro, a possibilidade de se contrariar esta ordem, seja por ocasião de uma incompletude ou de uma meta-teleologia. Quanto a isso, não consigo deixar de ser nietzschiano: que ordem é esta (e a ruptura dela) que não esteja nos olhos humanos? Ou, quanto à pretensa oposição tradicional entre natureza e artifício: que divisão é esta que se desfaz no momento exato em que eu aponto para a floresta e a
nomeio, artificialmente, por “natureza”?  Ou ainda, na suposta dialética da imagem, segundo a qual a imagem é real somente enquanto imagem, mas é irreal por operar uma fabulação, uma distorção do real: o que seria oposto ao real, se tudo o que pensamos, sentimos e imaginamos já se insere no real? Por que a divisão entre o que é e o que não é real, ao ser meramente pensada, se contradiz de imediato? Se, nas palavras de Nietzsche, “o mundo aparente é o único; o mundo verdadeiro é apenas mal intencionalmente acrescentado”, a quem interessa dissecar o real e, em nosso caso, a quem interessa determinar essencialmente o projeto?
Ou ainda, na suposta dialética da imagem, segundo a qual a imagem é real somente enquanto imagem, mas é irreal por operar uma fabulação, uma distorção do real: o que seria oposto ao real, se tudo o que pensamos, sentimos e imaginamos já se insere no real? Por que a divisão entre o que é e o que não é real, ao ser meramente pensada, se contradiz de imediato? Se, nas palavras de Nietzsche, “o mundo aparente é o único; o mundo verdadeiro é apenas mal intencionalmente acrescentado”, a quem interessa dissecar o real e, em nosso caso, a quem interessa determinar essencialmente o projeto?
O que me interessa é que este mundo ordenado apenas por sentidos “acrescentados” é o único que existe, o único que pode ser pensado. Veja bem: dizer que não existe uma essência do projeto e que o mundo é ordenado somente pelo olhar humano não é o mesmo que dizer que não existem coisas reais, ações e fatos concretos que nos afetam. Significa dizer que não há um “verdadeiro” e um “falso”, há apenas ocorrências singulares sempre já interpretadas e, ao mesmo tempo, sempre um passo adiante do sentido que a elas determinamos. Tudo isso remonta, enfim, o meu argumento inicial: o fato de a filosofia tradicionalmente ter se preocupado com a metafísica não faz da filosofia uma metafisica.
E, no fim das contas, me parece cada vez mais que teus argumentos só seriam válidos se a filosofia fosse sinônimo de metafísica. Isso fica claro, não obstante, quando você me encoraja a não ter receio de “batalhar” por minha verdade, dizendo que o cuidado para não transformar uma “definição provisória” em “outra definição essencial” é uma espécie de falsa precaução. Desculpe-me, Felipe, mas eu não pude conter o riso aqui, afinal, olha que interessante, apenas caso eu já não fosse conhecido justamente por gostar de discutir e debater é que eu poderia acatar sua sugestão. Definitivamente não sou eu que tenho medo de errar, de modo que, quando você cita Hegel para fomentar a “desconfiança da desconfiança”, eu só vejo nisso um recurso retórico para afastar um medo maior, o de não estar certo. E bem, se é para ser retórico, eu poderia me apropriar da mesma citação: “recear que esse temor de [não estar certo] já não seja o próprio erro”, eis o grande medo que alimenta toda a metafísica.
E caso você prefira, eu poderia também encarnar Pascal para responder a Descartes na mesma moeda: “…ou pode ser que a verdadeira fineza esteja em não perder de vista que não há verdadeira fineza se não houver quem a veja enquanto tal”. Neste mesmo raciocínio, concordo plenamente que se não houvesse alguém como você para demarcar “limites e fronteiras”, nem eu nem Deleuze (e tantos outros) poderíamos abrir “cortes transversais” entre tantos sistemas conceituais. Repito o que eu disse antes, que a propósito Pascal também já disse: para quebrar qualquer regra, é preciso haver antes alguma regra. Foi neste sentido que Nietzsche argumentava que os deuses morrem, mas de rir, quando ouvem um deus dizer que é o Único. De maneira dialética hegeliana, eu poderia completar dizendo que este deus só continua achando que é o Único porque continuam rindo dele. Posso estar errado? Claro, quem sabe ainda haja algum “sentido pleno” que cedo ou tarde se revelará. Mas como não tenho medo de errar, prefiro continuar insistindo que qualquer determinação essencial, ou associação de coisas que sejam logicamente “inalienáveis” (como você associa a teoria da ação ao design), ou vislumbre de um fundamento último (ainda que seja uma falta ou ausência fundadora) em que se ampara a ordem das coisas etc., acaba menosprezando ou achatando a vida em sua pluralidade de sentidos, uma vida que, esta sim, cedo ou tarde chega a um único fim.
—————————————————————————————————————————————————-
FELIPE KAIZER: Bom, você fez uma série de perguntas. Muitas delas são retóricas e, portanto, não foram endereçadas a mim. Outros pontos do seu argumento são atribuídos a minha fala, mas acredito que dizem mais respeito a sua. A tal justificação à posteriori, por exemplo, que você identifica na minha última mensagem como uma função hegeliana pode ser entendida também como a própria narrativa filosófica, póstuma, sobre os eventos; ou se você quiser, a ressimbolização, a “mediação simbólica” que você defende. Outras perguntas são de você para você mesmo: a “quem interessa determinar essencialmente o projeto”, senão a aquele que sua filosofia supõe, ou seja, o filósofo do design?
 Diante dessas inversões do discurso, eu preciso cordialmente desinverter a acusação que você me faz. Não insinuei nem explicitei qualquer coisa parecida com “sentido pleno”. Ao contrário, é a sua noção de interpretação que pressupõe tal sentido, na medida em que permite que as múltiplas narrativas insuficientes se equivalham. Bem ou mal, mesmo a mais relativização mais radical possui uma “anterioridade condicionante”. Você aposta no sentido do ato ao mesmo tempo em que abre espaço para a “interpretação que fazemos dele”. Corrija-me novamente se estiver enganado, mas essa dicotomia entre sentido e interpretação do ato não é similar a aquela entre aparência e essência ou entre verdade e ilusão? No final das contas, defender um sentido do ato (da realidade, para retomar uma palavra que você usou) é defender uma verdade ou uma essência, permanente e estável, que não pode ser inteiramente compreendido pelas tais traduções. Essa defesa fica explícita nas tautologias da sua primeira mensagem, como “morte é morte”. Esse “sentido” que permanece fora de alcance (da própria linguagem, como você demonstrou) é próprio de uma hermenêutica, como aquela em que você se fundamenta. Logo, meu ponto é que a relativização inerente a essa “traduções de traduções” é necessariamente metafísica. Do mesmo modo não fui eu quem invocou um “sentido perdido”. Mas, se for para aproveitar o seu termo, prossigo: é preciso perder o sentido perdido. Não é possível ignorá-lo. Isto é: filosoficamente, não dá pra contornar o pensamento essencialista – é preciso atravessá-lo.
Diante dessas inversões do discurso, eu preciso cordialmente desinverter a acusação que você me faz. Não insinuei nem explicitei qualquer coisa parecida com “sentido pleno”. Ao contrário, é a sua noção de interpretação que pressupõe tal sentido, na medida em que permite que as múltiplas narrativas insuficientes se equivalham. Bem ou mal, mesmo a mais relativização mais radical possui uma “anterioridade condicionante”. Você aposta no sentido do ato ao mesmo tempo em que abre espaço para a “interpretação que fazemos dele”. Corrija-me novamente se estiver enganado, mas essa dicotomia entre sentido e interpretação do ato não é similar a aquela entre aparência e essência ou entre verdade e ilusão? No final das contas, defender um sentido do ato (da realidade, para retomar uma palavra que você usou) é defender uma verdade ou uma essência, permanente e estável, que não pode ser inteiramente compreendido pelas tais traduções. Essa defesa fica explícita nas tautologias da sua primeira mensagem, como “morte é morte”. Esse “sentido” que permanece fora de alcance (da própria linguagem, como você demonstrou) é próprio de uma hermenêutica, como aquela em que você se fundamenta. Logo, meu ponto é que a relativização inerente a essa “traduções de traduções” é necessariamente metafísica. Do mesmo modo não fui eu quem invocou um “sentido perdido”. Mas, se for para aproveitar o seu termo, prossigo: é preciso perder o sentido perdido. Não é possível ignorá-lo. Isto é: filosoficamente, não dá pra contornar o pensamento essencialista – é preciso atravessá-lo.
Além disso, naturalmente, não reconheço em mim a maioria das suas imputações. Espero não estar sendo injusto com você quando aponto o que vejo de problemático no seu trabalho conceitual, mas preciso ser franco, como fui desde o princípio do nosso diálogo. Estou aprendendo bastante com nossa conversa, mais pela observação da sua atitude do que pelos seus argumentos. Louvo seu esforço e dedicação. E, na verdade, se sou um metafísico aos seus olhos, tudo bem. Da minha parte, sou um pouco mais generoso: vejo em você alguém que admite (como eu) a diferença irreconciliável entre visões de mundo e o papel determinante dos pressupostos em toda teoria, mas que ainda está preso à terminologia semiótica. A incapacidade de perceber que a sua insistência em dizer “que qualquer determinação essencial […] acaba menosprezando ou achatando a vida em sua pluralidade de sentidos” é também uma determinação – que tem o mesmo efeito “achatador” que as determinações que defendo – é o que torna mais difícil nossa conversa. Compadeço-me de você, porque sofro com situações muito parecidas. Temos desafios semelhantes.
Mas há uma diferença que gostaria de marcar. Reli mais de uma vez seus 30 parágrafos e ainda não me deparei qualquer coisa de muito relevante para aqueles que projetam (e que infelizmente não estão assistindo nossa conversa). A tal analogia entre filosofia e design sobre a qual concordamos é interessante, mas até agora acrescentou muito pouco ou nada à compressão da vida prática. O que será que perdi? Não encontrei ainda no seu discurso elementos que tratem exclusividade do design; em geral são proposições que valem para quase tudo. Trata-se no geral de distinções e conceituações que sobrevoam o mundo da prática sem nunca tocar o chão. E, de acordo com os pontos que já coloquei, isso que você chama de filosofia do design está condenado a sempre chegar depois do design. Essa filosofia não se preocupa com o “por que”, o “como” ou “o que” da atividade de projeto, mas tão-somente com as narrativas e os significados atribuídos por aqueles que versam sobre o trabalho dos outros. Em suma, essa filosofia do design lida somente com o falar a posteriori sobre os resultados das atividades práticas. É uma filosofia para filósofos, sem nenhum outro compromisso. Tem uma “finalidade em si”, como você falou, mas na pior acepção do termo.
Meu esforço é no sentido contrário. Quero conseguir falar de projeto a aqueles que projetam. Penso numa filosofia diferente, que esteja mais atenta à prática. Que tente captar a essência da atividade projetual através do pensamento especulativo, de tal forma que possamos meditar sobre porque projetar. Um falar que esteja pautado pelas experiências de projeto. Claramente, não concordamos nesse ponto e nosso diálogo está chegando ao fim.
—————————————————————————————————————————————————-
 MARCOS BECCARI: Já que estamos chegando ao fim, o que é uma pena, tentarei dar menos voltas e ser mais pontual desta vez. Em primeiro lugar, concordo que a mediação simbólica que eu defendo também pode ser uma justificação à posteriori, assim como qualquer tradução de mundo, nunca o neguei. Contudo, creio que “saber disso” faz toda a diferença. Pois tal compreensão não “troca” o mundo por outra coisa, pela tradução que se faz dele, não o reduz a um único sentido. Você pode enxergar isso como outro tipo de redução, uma “relativista”, e vou compreender seu ponto, até porque geralmente critico o relativismo da mesma forma. Mas o fato de você enxergar um esforço relativista em meus argumentos, que geralmente são semelhantes aos de Nietzsche e Deleuze, apenas confirma que é você que não tolera qualquer tradução de mundo que não seja a sua, sem perceber, portanto, que você já “trocou” o mundo por tal tradução. Esta manobra torna-se mais visível quando, logo em seguida, você insinua que determinar essencialmente o projeto deveria interessar ao filósofo do design. Eis o “sentido pleno” que lhe permite fazer este tipo de inversão de discurso, coisa que, de minha parte, nunca teve outra pretensão senão a de meramente explicar – e este é um problema meu mesmo: se eu gosto de discutir, é porque eu insisto em me explicar.
MARCOS BECCARI: Já que estamos chegando ao fim, o que é uma pena, tentarei dar menos voltas e ser mais pontual desta vez. Em primeiro lugar, concordo que a mediação simbólica que eu defendo também pode ser uma justificação à posteriori, assim como qualquer tradução de mundo, nunca o neguei. Contudo, creio que “saber disso” faz toda a diferença. Pois tal compreensão não “troca” o mundo por outra coisa, pela tradução que se faz dele, não o reduz a um único sentido. Você pode enxergar isso como outro tipo de redução, uma “relativista”, e vou compreender seu ponto, até porque geralmente critico o relativismo da mesma forma. Mas o fato de você enxergar um esforço relativista em meus argumentos, que geralmente são semelhantes aos de Nietzsche e Deleuze, apenas confirma que é você que não tolera qualquer tradução de mundo que não seja a sua, sem perceber, portanto, que você já “trocou” o mundo por tal tradução. Esta manobra torna-se mais visível quando, logo em seguida, você insinua que determinar essencialmente o projeto deveria interessar ao filósofo do design. Eis o “sentido pleno” que lhe permite fazer este tipo de inversão de discurso, coisa que, de minha parte, nunca teve outra pretensão senão a de meramente explicar – e este é um problema meu mesmo: se eu gosto de discutir, é porque eu insisto em me explicar.
Pois bem, eu não disse em momento algum que toda interpretação pressupõe um sentido pleno (pelo contrário, eu disse que ela é sempre insuficiente em relação ao que interpreta), nem que “as múltiplas narrativas insuficientes se equivalham” (pelo contrário, em si mesmas as narrativas são suficientes e por isso nunca se equivalem entre si). Ou seja, novamente é a sua leitura que quer ver algum “sentido pleno” algures. Você acusa que eu aposto “no sentido do ato ao mesmo tempo em que abro espaço para a interpretação que fazemos dele”, como se fossem coisas contraditórias entre si. Veja porque não são: eu aposto no “sentido do ato” não como um sentido pleno, único e desde sempre já determinado, e sim como algo indissociável da multiplicidade de interpretações que fazemos dele. Logo, não há nenhuma “dicotomia entre sentido e interpretação”, como você quis ver. Do mesmo modo, não defendo o sentido do ato ou da realidade senão como sendo interpretação, de modo que a realidade em si não possui, por si mesma, sentido nenhum. Você pode cair naquela mesma manobra de dizer que este sentido nenhum é “uma verdade ou uma essência, permanente e estável”, mas meu ponto sempre foi, por assim dizer, mais agnóstico do que ateu, pois apenas destaco uma impossibilidade que há em querer buscar uma “verdade” para além de nossos olhos.
Com relação às tautologias, permita-me demonstrar como eu nunca inferi, como você insinua, algum “sentido que permanece fora de alcance”. Digo que o sentido da vida é que ela não é outra coisa senão “vida”. Tal redundância, obviamente, não nos diz nada. Então poderíamos redefinir a vida como uma “imensa ampulheta em curso”, o que continuará não dizendo nada àqueles que não fazem ideia do que seja uma “ampulheta”. Só que não se trata de uma questão de linguagem ou, como você colocou, presa à “terminologia semiótica”. Trata-se antes de um falso impasse: ou o sentido limita-se a dizer o já dito, a mostrar o já visto, ou não diz nada do que é, como uma abstração aleatória. O impasse é falso porque somente um instrumento externo poderia colocar o sentido de “vida” de um lado e a vida em si de outro; e no entanto o único instrumento que temos (a mediação do pensamento) é interno à própria vida. Então, se eu digo que “morte é morte” não quero dizer que esta palavra nos basta, mas que a morte não precisa de outra coisa para ser dita, ela basta a si mesma independentemente de qualquer sentido – não como uma essência para além da aparência, não como um mundo verdadeiro filosoficamente inteligível, mas como sentido que não é outra coisa além do que aparenta ser. Não há nada de errado em chamar a morte de outra coisa, desde que se saiba estar criando outra coisa com o risco de confundi-las, de substituir uma por outra. Afinal, o esforço de se expressar, a meu ver, nada mais é do que o de dizer de outro modo o já dito.
Penso que a expressão é uma condição, se não necessária, ao menos incontornável do pensamento. Não vejo nada de relativista nem de metafísico nisso. Relativismo significa dizer que toda e qualquer expressão é verdadeira (ou que nenhuma é), metafísica significa dizer que uma única expressão é verdadeira – e ambos se equivalem em última instância. O que eu digo é que a verdade de uma expressão é somente verificável por ela mesma. Percebe a diferença? Se eu digo que vida significa vida, não é porque a palavra “vida” seja equivalente à “vida em si”, mas porque a vida em si não se distingue da expressão que faço dela – o que
também não a fixa num sentido único e  universalmente válido, mas me permite, ao contrário, continuar referindo-me à vida para dizer coisas diferentes com uma mesma palavra (por isso a tautologia, como afirma Ricoeur, é ao mesmo tempo condição e consequência da metáfora). Ou seja, não é o mundo que se adapta ao sentido que dou a ele, mas o inverso. Seguindo o mesmo raciocínio, quando Nietzsche fala de “tornar-se o que se é”, não é que haja um sentido-de-ser dado de antemão, mas exatamente o contrário: a dificuldade de ser é a dificuldade de não ser outra coisa. O sentido de “sou o que sou” sempre está para ser inventado, e não há nada de contraditório nisto.
universalmente válido, mas me permite, ao contrário, continuar referindo-me à vida para dizer coisas diferentes com uma mesma palavra (por isso a tautologia, como afirma Ricoeur, é ao mesmo tempo condição e consequência da metáfora). Ou seja, não é o mundo que se adapta ao sentido que dou a ele, mas o inverso. Seguindo o mesmo raciocínio, quando Nietzsche fala de “tornar-se o que se é”, não é que haja um sentido-de-ser dado de antemão, mas exatamente o contrário: a dificuldade de ser é a dificuldade de não ser outra coisa. O sentido de “sou o que sou” sempre está para ser inventado, e não há nada de contraditório nisto.
Esta me parece ser a sua grande dificuldade: aceitar que as contradições são antes complementares e que nem por isso se deixam reduzir a um único sentido. Por isso você diz que “não dá pra contornar o pensamento essencialista”, tentando ainda “atravessá-lo” como única via para “perder o sentido perdido”, na mesma lógica da desconfiança-da-desconfiança de Hegel, isto é, sendo mais essencialista que o essencialismo (de pressupor um sentido perdido). A meu ver, a ideia de um sentido perdido, bem como a de atravessá-lo para perdê-lo novamente, é apenas uma narrativa ao mesmo tempo autossuficiente (em si mesma) e insuficiente (em relação às interpretações que ela suscita). Sem querer me prolongar, insisto mais uma vez que estamos imersos em histórias que nós mesmos inventamos, de modo que qualquer ação ou interpretação somente se faz compreender por intermédio de uma narrativa. E sem querer ser redundante, mas já sendo: esta é apenas uma interpretação possível (a minha), não a única possível, e saber disso faz toda a diferença.
Logo, não acho que você está sendo injusto ao criticar minhas digressões conceituais. Ao contrário, acho sua franqueza totalmente justa. Não fosse o caso, eu não estaria fazendo o mesmo. Você tem toda razão ao falar de uma diferença irreconciliável entre visões de mundo, o que em meus termos significa a não equivalência entre narrativas – o que contraria sua colocação anterior de que “as múltiplas narrativas insuficientes se equivalham”. Por conseguinte, ao contrário do que você disse, de minha parte não há incapacidade de perceber que minhas colocações também compõem uma “determinação”, com efeito iminente de “achatar” o mundo. Entretanto, de novo, o simples fato de eu saber disso me parece suficiente para não achatar nada. Mas é verdade que, no ponto em que estamos, nossa conversa vai se tornando cada vez mais difícil. Não vejo isso como algo ruim, pois o fato de reconhecermos tal dificuldade apenas sinaliza que conseguimos desenvolver um bom diálogo. Neste sentido, eu também “estou aprendendo bastante com nossa conversa, mais pela observação da sua atitude do que pelos seus argumentos”, até porque os pressupostos importam mais que os argumentos, como você bem pontuou. Se partilhei meus pressupostos com você, é porque também acho que estamos num mesmo barco. E porque você é um dos poucos que se mostram interessados em pensar, de uma forma ou de outra, uma filosofia do design.
Por fim, quanto à relevância prática que você não enxerga no que eu concebo por filosofia do design, eu diria que, enquanto você quer “conseguir falar de projeto àqueles que projetam”, eu quero conseguir (e acho que tenho conseguido) falar de design àqueles que fazem design. Claro que, ao longo de nosso diálogo, é preciso admitir que tanto a minha quanto a sua arguição não foram tanto nesta direção. Agora, quando você se refere a um “mundo da prática” em relação ao qual minhas digressões filosóficas “nunca tocam o chão”, ou estão condenadas a “sempre chegar atrasadas”, como um “falar a posteriori sobre os resultados das atividades práticas”, sou obrigado a dizer que eu não esperava ver você falando disso. É inevitável para mim, desculpe a comparação simplista, pensar aqui no aluno pragmatista queixando-se que a teoria ensinada é inútil, o famoso “como isso se aplica no mercado?”, isso é coisa de intelectual que não tem o que fazer da vida, perda de tempo, etc.
Ou ainda, para não ser tão simplista assim, você fala de um “mundo da prática” de maneira semelhante ao “mundo real” de que fala Victor Papanek. Afinal, a noção de um mundo da prática (ou real) necessariamente se apresenta como contraparte de um suposto mundo abstrato da não-prática (ou irreal),
e novamente vejo uma separação cartesiana  de sua parte – como se o “mundo real” não fosse antes de tudo um julgamento do intelecto, portanto decorrente da ordem imaginária (“mundo irreal”) supostamente descolada daquele. A armadilha é que, à medida que uma parte é qualificada como real ou prática, a outra parte (irreal, não-prática) automaticamente se torna secundária e supérflua. Penso exatamente o contrário: é este supérfluo da ordem do imaginário (especialmente no registro ritualístico-antropológico) que nos faz reconhecer qualquer prática como sendo propriamente “prática”. No entanto, de fato este tipo de concepção (bem desenvolvida por Bataille e Baudrillard, por exemplo) parece não ter lugar num horizonte pragmatista, conforme você confirma ao considerar a “finalidade” de um fim-em-si como sendo a “pior acepção do termo”.
de sua parte – como se o “mundo real” não fosse antes de tudo um julgamento do intelecto, portanto decorrente da ordem imaginária (“mundo irreal”) supostamente descolada daquele. A armadilha é que, à medida que uma parte é qualificada como real ou prática, a outra parte (irreal, não-prática) automaticamente se torna secundária e supérflua. Penso exatamente o contrário: é este supérfluo da ordem do imaginário (especialmente no registro ritualístico-antropológico) que nos faz reconhecer qualquer prática como sendo propriamente “prática”. No entanto, de fato este tipo de concepção (bem desenvolvida por Bataille e Baudrillard, por exemplo) parece não ter lugar num horizonte pragmatista, conforme você confirma ao considerar a “finalidade” de um fim-em-si como sendo a “pior acepção do termo”.
Você reivindica alguma relação com o “por que”, o “como” ou “o que” já estrita a uma dimensão prático-pragmática daquilo que você chama de “atividade de projeto”. É por isso que você não encontra nada no que eu digo que trata “exclusivamente do design”, que não chegue sempre “atrasado” e que não sobrevoe o chão etc., ou seja, porque seu pensamento já está voltado exclusivamente a um “mundo da prática”. Isso me lembra, novamente, uma passagem de Hegel segundo a qual a verdadeira seriedade reside na adequação do homem em relação à essência de sua prática, fazendo dela seu saber e seu meio de existir. A meu ver, essa adequação hegeliana é como a do militar que diz que é sério apenas por ser militar, ou seja, por ter se adequado a uma conduta demagógica e doutrinária. É neste sentido que você considera o que eu faço “uma filosofia para filósofos, sem nenhum outro compromisso”.
Que compromisso eu deveria ter? Com a prática de projeto, segundo você. “Um falar que esteja pautado pelas experiências de projeto”. É claro que, do seu ponto de vista, meus pensamentos especulativos são “em geral são proposições que valem para quase tudo”, pois de fato não os reduzo a um instrumento metafísico para “captar a essência [sentido pleno] da atividade projetual”. Não concordo, porém, que seu “esforço é no sentido contrário” ao meu; de minha parte, o esforço de falar para os designers é algo que tenho feito exaustivamente. A diferença está nos pressupostos e consequentemente na maneira como fazemos isso.
—————————————————————————————————————————————————-
FELIPE KAIZER: Quando leio suas respostas, algumas coisas saltam a vista, soam dissonantes. Por exemplo: “estamos imersos em histórias que nós inventamos”. Afinal, que posição é essa? De onde esse discurso é proferido, senão do alto da torre de marfim, de onde é possível ver traduções dando origem a outras traduções, infinitamente? Uma posição salva do questionamento dos seus próprios pressupostos. Enfim, uma posição metafísica que visa conciliar, com olhos de sentinela, todos os sentidos possíveis, pois diz “saber disso”. Dizer que “saber disso faz toda a diferença” é dar um status especial a própria interpretação, supô-la mais lúcida, ou ao menos superior a outras que não sabem disso. Isso, obviamente, entra em contradição com a falsa modéstia de afirmar se trata de “apenas uma interpretação possível (a minha)”. Essa sagacidade é barata.
Nisso também nos opomos: o mundo da prática que eu invoco, ao contrário do que você inferiu, tem pouco a ver com as demandas do pragmatismo. Posso dizer que diz respeito a uma questão de experiência, e no caso específico da nossa conversa, da experiência de projetar. Por isso tento não deixar coincidir “aqueles que projetam” com “aqueles que fazem design”. Como disse no começo da nossa conversa, acho que as considerações de ordem profissional tem um papel secundário na investigação sobre a natureza do projetar. Não são apenas designers os que projetam. Interessa-me pensar o projeto como uma atividade. Nesse sentido, a tentativa de compreender a vida prática corresponde à tentativa de especular sobre as experiências vividas em projeto.
 Logo, o Papanek citado por você vem a calhar. Podemos ter ressalvas a respeito dos argumentos dele, podemos considerá-los datados, mas não somos capazes de esvaziar completamente seu discurso. A posição da fala dele é nítida; ele é justificado por uma vida de trabalho. No fim das contas, posicionamentos como o dele – muitas vezes injustamente considerados dogmáticos – são os mais generosos e produtivos; partimos de onde ele parou. O “mundo real” dele não se contrapõe a um “irreal”. A oposição talvez seja mais artistotélica, entre vita contemplativa e vita activa (para usar os mesmos termos de Arendt). Essa distinção está presente também na expressão que utilizei: a “teoria da ação” também propõe “digressões filosóficas”, mas estas se valem somente da sua fidelidade ao que é vivido. Sem esse lastro, a tal filosofia do design derrapa sem sair do lugar; discursa-se sobre a morte, a vida, qualquer coisa. Sendo novamente franco: as “traduções de traduções” – expressão notadamente semiótica – é um template teórico; uma filosofia do design baseada nisso é uma customização de uma “filosofia de [seu substantivo aqui]“.
Logo, o Papanek citado por você vem a calhar. Podemos ter ressalvas a respeito dos argumentos dele, podemos considerá-los datados, mas não somos capazes de esvaziar completamente seu discurso. A posição da fala dele é nítida; ele é justificado por uma vida de trabalho. No fim das contas, posicionamentos como o dele – muitas vezes injustamente considerados dogmáticos – são os mais generosos e produtivos; partimos de onde ele parou. O “mundo real” dele não se contrapõe a um “irreal”. A oposição talvez seja mais artistotélica, entre vita contemplativa e vita activa (para usar os mesmos termos de Arendt). Essa distinção está presente também na expressão que utilizei: a “teoria da ação” também propõe “digressões filosóficas”, mas estas se valem somente da sua fidelidade ao que é vivido. Sem esse lastro, a tal filosofia do design derrapa sem sair do lugar; discursa-se sobre a morte, a vida, qualquer coisa. Sendo novamente franco: as “traduções de traduções” – expressão notadamente semiótica – é um template teórico; uma filosofia do design baseada nisso é uma customização de uma “filosofia de [seu substantivo aqui]“.
Isso me leva a questionar, por fim, seu esforço exaustivo para falar com designers. De início, isso difere radicalmente do esforço para falar com aqueles que projetam sobre a atividade de projeto. Além disso, sabemos que não é porque sua audiência é majoritariamente de profissionais de design que sua filosofia é de design. Depois do nosso diálogo ficou claro para mim que, enquanto as bases da teoria que você tentou me descrever não resolverem minimamente sua relação com a tradição filosófica, a nomeada “filosofia do design” será apenas uma espécie de esoterismo, que atrai pessoas famintas por alguma fundamentação teórica ou científica, mas que as retribui com vagas noções sobre relações não-causais e conexões arbitrárias entre significados. Imagino que o melhor que poderia acontecer a um dos seus ouvintes seria frustrar-se, pois só com uma quebra de expectativa é possível alguma transformação. No fim, acredito que você concorda comigo: as boas teorias são aquelas que podem falhar miseravelmente. Por isso te saúdo como fazem os atores antes do espetáculo: quebre a perna! E até o próximo diálogo!
![The Drum Drum Show escrita por HeyBae00 [Livre]](http://static.fanfiction.com.br/userfiles/D/3/D/5/capa_850994_1713813037.jpg)